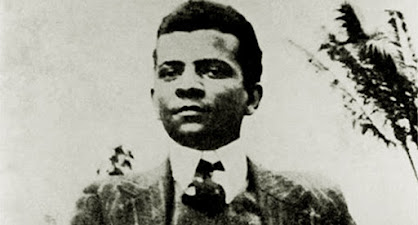OS CONTOS DE MONTEIRO LOBATO
Resenha
Livro – “Urupês” – Monteiro Lobato – “Contos Completos” – Ed. Biblioteca Azul.
“A sua roça, as suas personagens não são coisas de moça prendada, de menina
de boa família, de pintura de discípulo ou discípula da Academia Julien: é da
grande arte do nervoso, dos criadores, daqueles cujas emoções e pensamento saltam
logo do cérebro para o papel ou para a tela. Ele começa com o pincel, pensando
em todas as regras do desenho e da pintura, mas bem depressa deixa uma e outra
coisa, pega a espátula, os dados e tudo o que ele viu e sentiu e sai de um só
jato, repentinamente, rapidamente.”. LIMA
BARRETO
José
Bento Renato Monteiro Lobato desde criança desenvolveu a atividade literária.
Nascido na cidade de Taubaté/SP em 18 de abril de 1882, ainda na escola se
dedicava a escrever histórias e criar jornais.
É
provável que seu trabalho mais conhecido do público tenha sido o da literatura
infantil, a criação da Turma do Sítio do Pica Pau Amarelo, da boneca Emília,
dos primos Narizinho e Pedrinho, do Visconde de Sabugosa, da Dona Benta e da
Tia Nastácia.
Além
da literatura infantil, Monteiro Lobato produziu artigos, críticas literárias,
crônicas e um único romance, denominado o “Presidente Negro”, publicado em
1926.
Também
teve participação pessoal em movimentos políticos nacionalistas, em especial na
defesa na nacionalização do Petróleo – neste caso foi pioneiro, tendo sido
preso em março de 1941 durante o Estado Novo por ter enviado carta a Getúlio
Vargas e ao general Góis Monteiro, chamando atenção para “displicência do sr. Presidente da
República, em face da questão do petróleo no Brasil, permitindo que o Conselho
Nacional do Petróleo retarde a criação da grande indústria petroleira em nosso
país, para servir, única e exclusivamente, os interesses do truste
Standard-Royal Dutch”.
É
certo que a leitura de parte de suas obras pode surpreender um leitor
desatento, que não relacione algumas ideias tidas como racistas com as teses
sociológicas então em voga no país entre os fins do século XIX e o início do
século XX.
Mais
recentemente, houve mesmo quem propusesse censurar os livros Monteiro Lobato
por conta de suas teses raciais.
O
anacronismo presente neste tipo de análise é inequívoco e dispensa maiores
comentários.
Deixar
de ler Monteiro Lobato significa renunciar ao contato com a história das ideias
do Brasil num contexto em que as teses de eugenia, as críticas da miscigenação
e as propostas do embranquecimento da população eram parte do vocabulário do
pensamento social, de Nina Rodrigues à Sílvio Romero, de Euclides da Cunha à
Joaquim Nabuco.
Sim,
o mesmo líder abolicionista, frequentemente lembrado por suas campanhas em prol
da libertação dos escravos, refutava no parlamento a vinda da imigração chinesa
(“amarelos”) por considerações puramente raciais. Joaquim Nabuco, amigo íntimo
de Machado de Assis, censurou o crítico literário José Veríssimo quando, após a
morte do Bruxo do Cosme Velho, em artigo, Veríssimo chamava atenção para o fato
de que nosso maior romancista fora da cor preta. Na opinião de
Joaquim Nabuco, a despeito do fenótipo do falecido escritor, a sua alma era
branca e o artigo de Veríssimo depunha contra o autor de Memórias Póstumas de
Brás Cubas.
Fato
é que o pensamento eugênico era tipo como ciência pelo menos desde 1870 até os
anos de 1930.
No
começo do século XX as campanhas sanitaristas ajudam as elites intelectuais a
abandonarem, de forma gradual, os critérios de análise social baseadas
exclusivamente na raça. O atraso do país paulatinamente deixa de ser
relacionado ao problema da raça e passa a ser explicado pela (falta de) saúde e
salubridade.
Importante
papel foi cumprido por Gilberto Freire no seu “Casa Grande e Senzala” (1933),
dizendo que os problemas do brasileiro não diziam respeito à raça ou à
miscigenação envolvendo negros, índios e portugueses, mas à
salubridade, à saúde, à alimentação e à higiene.
Esta
mudança de posicionamento se expressou também no escritor paulista Monteiro
Lobato: quando criou o seu personagem Jeca Tatu, atribuía o atraso do caipira à
degeneração racial. Já em 1918, Monteiro Lobato em prefácio da obra faz a sua autocrítica,
já reconhecendo a predominância das doenças e da insalubridade no temperamento
de Jeca Tatu.
Quem
lê com atenção o “Casa Grande e Senzala” observa que a refutação das teses
eugenistas e raciais em Gilberto Freire dizia debates que ainda estavam na
ordem do dia. Casa Grande e Senzala e sua proposta de explicação da
especificidade da formação nacional Brasileira envolvia novidades no campo
metodológico, buscando chaves explicativas na cultura, na sexualidade, na vida
íntima e nos hábitos de alimentação e higiene.
Ora,
lendo os contos de Monteiro Lobato redigidos entre anos 1900-1920 verifica-se
que o escritor Paulista foi nada menos do que um pioneiro na superação de teses
puramente raciais na explicação da realidade nacional.
Sua
autocrítica sobre as considerações raciais do Jeca Tatu data de 1916, quase 20
anos antes da publicação do “Casa Grande e Senzala”. Em outras palavras,
Monteiro Lobato, ao contrário do propagado, tinha uma opinião avançada para a
época sobre o problema racial.
Válido
lembrar que o grande escritor carioca Lima Barreto, desprezado em vida por sua
origem social e racial, injustamente não reconhecido em vida, teve o seu
primeiro livro publicado por....Monteiro Lobato.
Conforme
texto de Beatriz Resende[1]:
“Monteiro Lobato teve um papel de fundamental importância na vida e na
obra de Lima Barreto, não só como estímulo intelectual em momentos em que o
escritor desanimava com o pouco sucesso de sua literatura, mas na divulgação e
permanência da obra do romancista. Foi pela decisão de Lobato editor que Lima
Barreto publicou um romance, pela primeira vez, impresso no Brasil. Ao
contrário do que acontecera com “Triste Fim de Policarpo Quaresma”, impresso em
Portugal às custas do próprio autor, Monteiro Lobato publica “Vida e morte de
M. J. Gonzaga de Sá” em São Paulo. E, ainda que a edição saia “matadinha”, como
diz Lobato, Lima Barreto, pela primeira vez é pago por seu trabalho como
romancista.”.
SOBRE URUPÊS
Urupês é o primeiro livro publicado
pelo escritor de Taubaté, lançado em 1918, muito antes de suas famosas obras
infantis.
O escritor tinha então 36 anos e era
tido como o principal crítico de artes visuais da imprensa paulista, mediante
publicações no Estado de São Paulo, que vão de 1915 a 1919.
É deste período a publicação do tão mal
compreendido artigo contra as pinturas modernistas de Anita Malffalti.
As reações negativas da crítica de Lobato
teria sido, para alguns, o ponto de partida de articulação do movimento
modernista, o que é falso. Em primeiro lugar, temos que Lobato e sua literatura
realista, tratando das condições de vida dos matutos do interior paulista,
certamente é uma precursora do modernismo literário – existe um evidente fio
condutor entre “Urupês” e, por exemplo, os romances regionalistas da chamada
geração de 1930, escritos por Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, Amado
Fontes, etc.
Tanto é assim, que o primeiro intelectual
que foi convidado a ser patrono da Semana de Arte Moderna de 1922 foi ninguém
menos que Lobato, que recusou o convite. Durante a exposição de São Paulo, Malffalti
sequer estava no Brasil, mas na Europa, só tendo retornado ao Brasil em 1928.
Em todo o caso, o realismo presente nos
contos de Monteiro Lobato de uma certa maneira era e versão literária de
quadros do pintor naturalista Almeida Júnior. Fazia sentido, portanto, as
críticas aos aspectos formais da arte de Malffati, que neste ponto não eram
brasileiras, mas europeias, baseadas nas vanguardas artísticas dos anos de 1920/30.
Em Urupês são reunidos 14 contos, 12
deles retratando pequenas histórias que se passam no interior paulista.
Trata-se de “causos” que retratam a
vida de pequenos funcionários públicos (“Um Suplício Moderno”), fazendeiros endividados
(“O Comprador de Fazendas”), rixa entre vizinhos (“A Vingança da Peroba”), casamentos
por interesse (“O Estigma”) e até mesmo o folclore e as lendas populares das
pessoas do campo, tratados em “Bocatorta”, em que um velho e odioso matuto,
filho bastardo de uma escrava e senhor de engenho, “disforme, horripilante como
não há memória de outro”, assombra a população do arraial do Atoleiro, causando,
por razões inexplicáveis, a morte e a desgraça daqueles que com ele se
encontram, tal qual o Curupira e o Saci Pererê.
Já os últimos dois contos da
Coletânea, denominados “Velha Praga” e “Urupês”, não são pequenas histórias e
mais crônicas tratando criticamente a situação do caboclo paulista, frequentemente
denominado como “Jeca Tatu”:
“De pé ou sentado
as ideias lhe entram, a língua emperra e não há de dizer coisa com coisa.
De noite, na
choça de palha, acocora-se em frente ao fogo para ‘aquentá-lo’, imitado da
mulher e da prole.
Para comer,
negociar uma barganha, ingerir um café, tostar um cabo da foice, fazê-lo noutra
posição será desastre infalível. Há de ser de cócoras.
Nos mercados, para
onde leva a quitanda domingueira, é de cócoras, como um faquir de Bramaputra, que
vigia os cachinhos de brejaúva ou o feixe de três palmitos.
Pobre Jeca Tatu!
Como és bonito no romance e feio da realidade”.
A crítica da idealização do indígena pelos
românticos é explícita e aparece logo no começo do conto Urupês, tudo a confirmar
que Lobato não era um opositor mas um precursor do modernismo.
Cabe a ele e a Lima Barreto, a
despeito de alguns antecessores como Aluísio Azevedo com seu Cortiço e Manual Antônio
de Almeida com seu Memórias de um Sargento de Milícias, a primeira manifestação
de uma arte intensamente popular. A descrição da realidade através da experiência
e do contato direto, e não por uma leitura de gabinete, como os índios rousseaunianos
de José de Alencar ou os quadros experimentais de Malfatti.
Estes contos certamente são uma fonte
preciosa de conhecer a cultura popular e uma parte da história do Brasil. Neste sentido, não nos restam dúvidas de que
os ataques à Monteiro Lobato, pela sua inconsistência, são parte de uma agenda anti-nacional,
impulsionada por setores intelectuais vinculados, conscientemente ou não, à agenda
imperialista norte-americana.