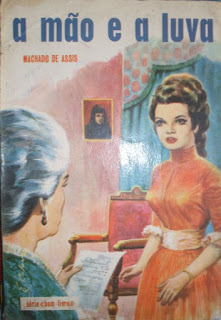“Crítica do Programa de Gotha” – Karl Marx
Entre os dias 22 e 27 de Maio de 1875 ocorreu na cidade de Gotha na Prússia o congresso de unificação dos dois grandes partidos operários alemães: a Associação Geral dos Trabalhadores Alemães, fundado em 1864 e tendo por líder máximo Ferdinad Lassalle (morto em 1864) e o Partido Social Democrata dos Trabalhadores, fundado em 1869 e dirigido por Liebknecht, Bracke e Bebel, contando, ademais, com colaboração de Marx e Engels.
Ocorre que a forma como se deu a unificação dos dois partidos implicou na sub-rogação do programa da social democracia alemã marxista, que uma vez baseada desde o ponto de vista teórico entre outros pelos estatutos da Associação Internacional dos Trabalhadores e pelo próprio Manifesto Comunista, se submeteu no congresso ao programa político Lassaliano.
“A crítica ao Programa de Gotha” são as glosa marginais escritas ao longo do programa por Marx, um crítica decidida e virulenta contra uma forma de socialismo não consequente que seria incorporado dentro do estatuto do novo partido operário da Alemanha. Isso significava que Marx e Engels se colocariam contra a formação do novo partido? Não! Nas palavras do Velho Mouro, “Cada passo do movimento real é mais importante do que meia dúzia de programas”. Nesse sentido, a unidade representava um avanço, em que pese todos os erros enunciado pela organização partidária que nascia. Outrossim, Marx e Engels não criticaram publicamente o programa diante de uma opção política tática, como revela uma carta de Engels a Bebel datada de 12 de Outubro de 1875:
“Em vez disso, os asnos das folhas burguesas tomaram esse programa com toda a seriedade, leram nele o que lá não se encontrava e entenderam-no ao modo comunista. Os trabalhadores parecem fazer o mesmo. Foi apenas esta circunstância que permitiu a Marx e a mim não nos pronunciarmos publicamente sobre tal programa. Enquanto nossos oponentes e também os trabalhadores atribuírem a esse programa os nossos pontos de vista, poderemos silenciar sobre isso”.
As críticas de Marx ao programa de Gotha são essencialmente conceituais e incidem sobre o espírito lassaliano do programa aprovado desde que certa fraseologia que se extrai do texto decorre das ideias do antigo dirigente do partido alemão. É o caso da “Lei de Bronze dos Salários”, que consta no programa, como se os salários na sociedades capitalistas seguissem uma espécie de lei natural e imutável. Outra ideia particularmente combatida por Marx dentro corresponde à passagem segundo a qual “a libertação do trabalho tem de ser obra da classe trabalhadora, diante da qual todas as outras classes são uma só massa reacionária”. Tal concepção, segundo Marx, subestima a necessidade de uma política de coalizão com os camponeses na luta contra a reação feudal o que se verificaria ipsis litteris na Revolução Russa de 1917 ou mesmo em Revoluções que tiveram como ponto de partida o campesinato como em Cuba ou Nicarágua. Outrossim, a burguesia junto às classes médias, em face da aristocracia feudal, naquele período histórico e em alguns lugares ainda tinha a cumprir um papel revolucionário. De outro lado, o que se sabe é que Lassalle, que foi um dirigente de nassas, foi acusado de negociar junto a Bismarck, e eventualmente tal sectarismo teria como condão preservar os setores políticos mais reacionários da Prússia.
A questão das cooperativas também são alvo das críticas de Marx no que tange a sua subvenção pelo Estado.
“A organização socialista do trabalho total, em vez de surgir do processo revolucionário de transformação da sociedade, surge da ‘subvenção estatal’, subvenção que o Estado concede às cooperativas de produção “criadas” por ele, e não pelos trabalhadores. É algo digno da presunção de Lassalle imaginar que, por meio de subvenção estatal, seja possível construir uma nova sociedade da mesma forma que se constrói uma nova ferrovia!”.
E as confusões acerca da questão do estado são reiteradas e esclarecidas por Marx quando o programa aborda a questão dos impostos progressivos.
Dentre as consignas ou o que poderíamos chamar de programa mínimo do partido alemão, muitas delas já são hoje uma realidade na democracia burguesa do século XXI. São elas o Sufrágio Universal, proibição do trabalho infantil (formal nos dias de hoje) e regulação do trabalho prisional. Outras não se verificam como a Jurisdição pelo povo e assistência jurídica gratuita, preparação militar geral e milícia popular no lugar do exército permanente e autoadministração completa para todos os fundos de assistência e previdência dos trabalhadores.
A edição da Boitempo da “Crítica do Programa de Gotha” é uma importante fonte de estudos acerca das ideias de Marx sobre o programa partidário dos socialistas. A edição conta não só com as glosas, mas com cartas referentes ao documento, um prefácio de M. Löwy e um “Resumo Crítico de Estatismo e Anarquia” de Bakunin em que Marx rebate as críticas do ativista libertário russo às suas concepções sobre estado ou mesmo às falsas concepções a ele atribuídas sobre estado e revoluções.
A atualidade desta obra reside nas críticas acerca da concepção do estado seja quanto ao entendimento reformista de Lassalle, seja dentro das críticas de Bakunin – de maneira contundente e eficaz, Marx demonstra os limites e mesmo o oportunismo das posições políticas reformistas e anarquistas quanto ao papel do estado dentro do processo de transição. Sai-se convencido que apenas a leitura marxista oferece uma percepção científica do fenômeno de transição societário desde a sociedade em que estamos rumo à sociedade que almejamos, sem classes e sem exploração.