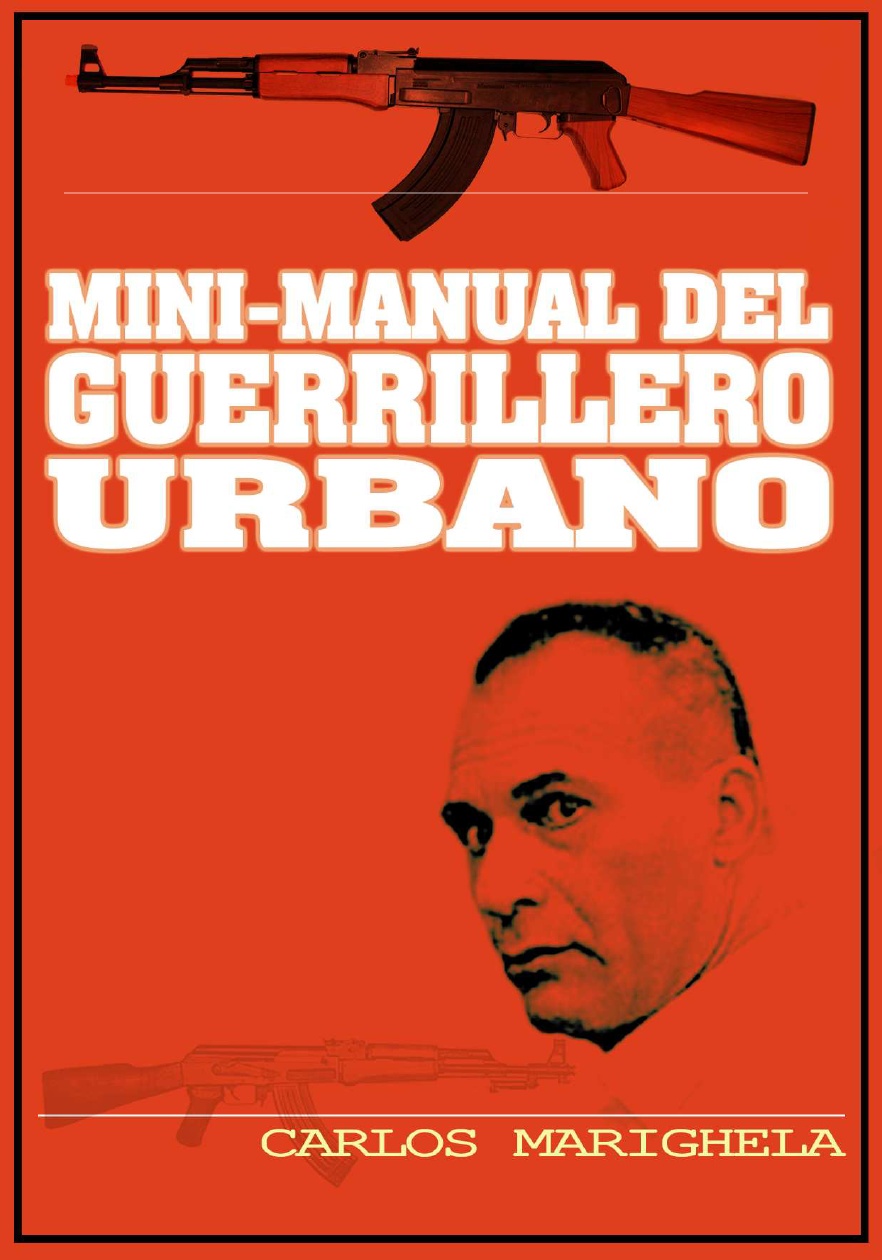“Com Stáline – Recordações” – Enver Hoxha
Resenha Livro - “Com Stáline – Recordações” – Enver Hoxha –
Lisboa - Fevereiro de 1980
O nome
do dirigente do Partido Comunista Albanês Enver Hoxha bem como a experiência da
luta pela libertação nacional albanesa e seu regime comunista é provavelmente
muito pouco conhecido dentre o público Brasileiro. Hoxha, durante a invasão
alemã em Albânia na II Guerra Mundial, fundou o Partido Comunista,
posteriormente denominado Partido do Trabalho da Albânia. Consta nestas reminiscências
que a orientação para a mudança do nome do partido partira do próprio Stálin: a
Albânia era um país majoritariamente camponês, com uma indústria e um
proletariado reduzidos, de modo que o Partido do Trabalho suscitava a
necessária aliança operário-camponesa.
Hoxha
foi nomeado secretário do Comitê Central do Partido e comissário do Exército de
Libertação Nacional em combate com o inimigo nazi-fascista e os elementos
reacionários da Albânia. Hoxha lutou nas trincheiras da II Guerra Mundial na
condição de comandante e comissário político até a expulsão do inimigo. Após a
guerra foi primeiro ministro da Albânia até o ano de 1955.
Esta
obra corresponde a uma espécie de memórias/recordações dos encontros de Enver
Hoxha com Joseph Stálin e foi publicada por ocasião do centenário da morte do grande
marechal vermelho da URSS no ano de 1979. Sua leitura ainda mantém vivo
interesse aos comunistas brasileiros por diferentes razões.
Em primeiro lugar, na introdução, Hoxha faz uma síntese da
importância de Stálin em face da história do movimento comunista mundial, o que
é particularmente relevante diante das calúnias e mistificações que
historicamente buscaram apagar a figura do dirigente soviético da história:
nestes termos, tanto a reação quanto revisionistas/trotskystas fazem coro em
torno de certo senso comum segundo o qual Stálin teria inaugurado uma “ditadura
totalitária” ou promovido uma “contrarrevolução burocrática”. Como veremos, não
é gratuito estes ataques quase sem precedentes a um indivíduo como Stálin. Como
bem lembra Ludo Martens no livro “Stálin: um novo olhar”, a mistificação em
torno de Stálin diz respeito ao fato de que a URSS entre a morte de Lênin em
1924 e os anos do “estalinismo” mostrou-se como o período em que o socialismo
desafiou de maneira mais decisiva os capitalistas em nível mundial. É o que se
observa particularmente após a II Guerra Mundial, quando o exército vermelho
esmagou militarmente o nazi-fascismo e granjeou o respeito e admiração de
trabalhadores em todo mundo, incluindo dos países capitalistas do ocidente,
colocando o próprio capitalismo numa crise só vista no séc. XX em 1929.
Hoxha faz referência ao papel decisivo da URSS e de sua
direção política na II Guerra Mundial:
“Stáline propôs aos
governos dos grandes países capitalistas a conclusão de uma aliança contra o
flagelo hlitleriano mas estes governos rejeitaram esta proposta, indo mesmo ao
ponto de violar as alianças que já tinham com a União Soviética na esperança de
que os hitlerianos extirpassem o “germe do bolchevismo” e tirassem as castanhas
do lume deles.
(...)
Numerosos políticos e historiadores burgueses e revisionistas
afirmam que a agressão hitleriana encontrou a União Soviética desprevenida e
responsabilizaram Stáline por tal fato. Mas a vida refuta esta calúnia. A
Alemanha hitleriana, como estado agressor que era, violou cobardemente o pacto
de não agressão e aproveitou-se do efeito estratégico da surpresa e da considerável superioridade numérica de
suas forças (cerca de 200 divisões, suas e dos seus aliados), para se lançar
numa “guerra-relâmpago” que deveria permitir, de acordo com os planos de
Hitler, vencer a União Soviética e submetê-la em menos de dois meses!
Sabemos bem o que aconteceu na realidade. A “guerra
relâmpago”, vitoriosa em toda Europa
ocidental, fracassou a leste. O Exército Vermelho, dispondo de uma
sólida retaguarda graças ao apoio dos povos soviéticos, conseguiu ir esgotando
as forças do inimigo durante a retirada, para depois as encurralar e passar ao
contra ataque, esmagando-as com golpes sucessivos até obrigar a Alemanha
hitleriana a capitular sem condições”.
Um segundo interesse para a leitura destas memórias diz
respeito às conversas entre Hoxha e Stálin acerca da construção do socialismo
na Albânia, desde problemas da agricultura e indústria até a posição dos
Albaneses em face do movimento comunista internacional. Hoxha já na introdução
revela que os comunistas albaneses reivindicam a tradição soviética da
Revolução de Outubro até a morte de Stálin: com a ascensão de Khrushchov, o XX
Congresso do PC da União Soviética e as ditas “denúncias dos crimes de Stálin”,
o dirigente albanês entende haver uma mudança qualitativa inclusive na relação
entre os países, se tornando a URSS numa potência Social-Imperialista. O que é
interessante é que nos encontros com Stálin, não se observa uma relação de subordinação
em que o dirigente soviético daria ordens e comandos a serem executados pelos
albaneses. Stálin apenas se limita a oferecer preciosos conselhos, não só
políticos, mas em matérias bastante específicas, como ao conceder sementes de
Eucalipto que serviriam para os albaneses plantar nas regiões de Pântano
subtraindo a umidade do solo.
Há no 4º Encontro entre Hoxha e Stálin importante discussão
com a participação do Partido Comunista Grego em que se demonstram as
divergências entre gregos e albaneses. Diante da luta de libertação nacional
grega contra os monarco-fascistas, Hoxha critica o abandono da estratégia da guerra de guerrilhas que
deveria evoluir no sentido da insurreição geral e na tomada do poder. A derrota
dos comunistas gregos se dá pela opção da direção do partido comunista na formação
de exércitos regulares com uma tática defensiva, algo que certamente levaria à
derrota diante da força numérica do inimigo, apoiado pelos ingleses e
americanos. Outro fator da derrota do movimento grego foi a incompreensão do
papel dirigente do partido no exército, com a necessidade de uma direção
política no front.
Um terceiro interesse nas recordações de Hoxha diz respeito
a aspectos pessoais de Stálin revelados nos encontros. Stálin sempre mostra
atenção aos problemas gregos e, como dito, faz recomendações respeitando a
autonomia do movimento albanês. Tem uma postura cordial e humilde diante das
solicitações. De uma maneira geral, as ideias de Stálin tem um sentido bastante
prático:
“Na minha opinião, disse o camarada Stálin, não deveis
apressar-vos na coletivização da agricultura. O vosso país é montanhoso e tem
um relevo muito variável de região para região. Também nós, nas zonas
montanhosas, só muito mais tarde criamos os Kolkhozes”.
O combate aos revisionistas, aos imperialistas e aos
inimigos internos é uma realidade compartilhada tanto em Albânia quanto em
URSS. As chamadas depurações promovidas por Stálin e tão alardeadas pelos
trotskystas/revisionistas como sintoma da burocratização é antes uma luta de
princípios contra setores estreitamente ligados aos capitalistas estrangeiros:
“Alguns permaneceram nas fileiras do Partido bolchevique
para assaltar a cidadela por dentro e desagregar a justa linha
marxista-leninista deste partido conduzido por Stáline, enquanto outros ficaram
fora das fileiras do partido mas no interior do Estado, conspirando e sabotando
aberta ou disfarçadamente a construção do socialismo. Nestas circunstâncias
Stáline aplicou com firmeza uma das principais recomendações de Lénine,
depurando o partido sem hesitações de todos os elementos oportunistas,
capitulacionistas face à pressão da burguesia, do imperialismo e dos pontos de
vistas estranhos ao marxismo-leninismo”.
A oposição entre Stálin e Trótsky foi deformada em “socialismo
num só país” contra internacionalismo, enquanto o relato de Hoxha revela o
verdadeiro sentido internacionalista e de solidariedade da URSS para com o movimento
comunista mundial e particularmente a Albânia, com envio de especialistas e
técnicos do campo e da cidade desde a URSS para ajudar na construção do
socialismo albanês. A verdadeira oposição entre Stálin e Trótsky pode ser,
entre outras, a de que o marxismo-leninismo de Stálin pavimentou um caminho de
vitórias (especialmente em face do aspecto prático e objetivo da direção
estalinista, conjugado com uma estreita observância de princípios
marxistas-leninistas). Já a teoria da revolução permanente nos termos não de
Marx mas de Trótsky teriam levado a URSS a durar menos do que os 72 dias de
existência da Comuna de Paris.
Seria oportuno que Expressão Popular, Boitempo e demais
editoras de esquerda oferecessem ao público brasileiro a contribuição de Enver
Hoxha.