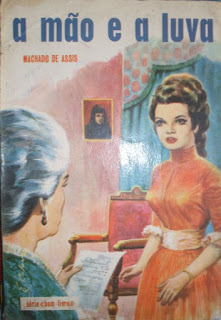“O Socialismo Jurídico” – Friedrich Engels e Karl Kautsky
Resenha Livro - “O Socialismo Jurídico” – Friedrich Engels e Karl Kautsky – Boitempo Editorial
O artigo “O Socialismo Jurídico” foi planejado por F. Engels e escrito por ele e por Kautsky, com publicação no ano de 1887 pela “Die Neue Zeit”. Na verdade, com o tempo descobriu-se que o artigo começou sendo redigido por F. Engels e este, após ter sido cometido por enfermidade, delegou a tarefa de terminar este importante trabalho a Kautsky. Relevante texto na medida em que o parceiro de Marx, aqui, tinha como objetivo central dar respostas a ataques contra à Marx (falecido desde 1883) desde o livro do professor de Direito Processual da Universidade de Viena, Anton Menger, obra denominada “O Direito ao produto integral ao trabalho historicamente exposto”.
Para o leitor contemporâneo, a resposta de Engels ganha relevância nem tanto em sua tarefa de combater as falsificações de Menger sobre o trabalho de Marx. Menger alega que supostamente teria havido plágio de autores socialistas franceses que precederam Marx: isso valeria para a teoria da mais valia (que de todo resto é inteiramente incompreendida pelo jurista austríaco) bem como é debita à autoria de Marx uma formulação jurídica da qual ele nunca foi autor (e que remete ao socialismo utópico) que é a do “direito ao produto integral do trabalho”.
Mais importante do que as refutações a Menger, são as críticas ao Socialismo Jurídico que perpassam o artigo. O Socialismo Jurídico conta com certa influência na ala direita da social democracia alemã, é uma ala reformista e pelo exposto contrária mesmo ao marxismo.
Podemos identificar as origens do Socialismo Jurídico na história, conforme diz Engels:
“Mas a burguesia engendrou o antípoda de si mesma, o proletariado, e com ele novo conflito de classes, que irrompeu antes mesmo de a burguesia conquistar plenamente o poder político. Assim como outrora a burguesia, em luta contra a nobreza, durante algum tempo arrastara atrás de si a concepção teológica tradicional de mundo, também o proletário recebeu incialmente de sua adversária a concepção jurídica e tentou volta-la contra a burguesia. As primeiras formações partidárias proletárias, assim como seus representantes teóricos, mantiveram-se estritamente no jurídico “terreno do direito” , embora construíssem para si um terreno do direito diferente daquele da burguesia. De um lado a reivindicação da igualdade jurídica foi ampliada, buscando completar a igualdade jurídica com igualdade social; de outro lado, concluiu-se das palavras de Adam Smith – o trabalho é a fonte de toda a riqueza, mas o produto dos trabalhos dos trabalhadores deve ser dividido com os proprietários de terra e os capitalistas – que tal divisão não era justa e devia ser abolida ou modificada em favor dos trabalhadores”.
Em outros termos, a concepção jurídica de mundo é uma particularidade da sociedade burguesa e ela se projeta adiante na história com o desenvolvimento do capitalismo e a polarização entre as duas novas classes antagônicas, capitalistas e trabalhadores. Os trabalhadores não são imunes a essa sombra que se emana nas novas relações sociais, mas a alteram, sem contudo, revolucionar efetivamente toda a sociedade (por meio de novas relações sociais decorrentes de um novo modo de produção) que não são determinados pelo direito, mas, o inverso, são determinantes do fenômeno jurídico.
Este não é a linha política do “Socialismo Jurídico” que não obstante redundaria na ala mais direitista e reformista da social democracia alemã, advogando a transformação da sociedade em direção ao socialismo por meio do direito e da lei. Vejamos o que diz Menger:
“As mudanças sociais necessárias (da ordem jurídica vigente) se realizarão no decorrer de longo desenvolvimento histórico no decorrer de longo desenvolvimento, do mesmo modo que a nossa atual ordem social desagregou e destruiu o sistema feudal no decurso dos séculos, até que finalmente só foi necessário um empurrão para que ele autoabolisse inteiramente”.
Nada mais estranho tais ideias ao projeto político encampado por Marx, Engels e sua tradição, que envolve a organização e a luta dos trabalhadores em unidade em todo mundo contra a opressão e exploração, não se cogitando aguardar o momento histórico “maduro” para com um “empurrão” avançar rumo a uma modelo societário mais civilizado.
Finalmente, Engels constata que os partidos socialistas fazem determinadas reivindicações jurídicas que irão variar de acordo com local e com o tempo. Mas o que se está em discussão é a concepção do direito para os marxistas: em última instância trata-se uma forma necessária encontrada para a circulação de mercadoria, para a subsunção do trabalho ao capital, para a alienação e especialmente para a configuração de um sujeito de direito que em condições de igualdade formal e liberdade (autonomia da vontade) dispõe da possibilidade de venda e compra da força de trabalho. O Direito é um fenômeno com especificamente capitalista e que, na terminologia leninista, poderia nos servir enquanto fonte de lutas táticas ou mesmo defensivas e não como um horizonte estratégico, tal qual o socialismo jurídico e suas roupagens mais modernas na forma de socialismo “democrático”, “socialismo e liberdade”, etc.